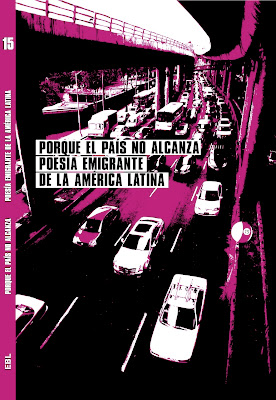Tenho carregado na sacola a antologia Revolution of the Word: A New Gathering of American Avant Garde Poetry 1914-1945, editada por Jerome Rothenberg, nesta última semana.
Rothenberg é famoso por suas antologias ::: Technicians of the Sacred (1968), Shaking the Pumpkin (1972), America A Prophecy (1973), Poems for the Millennium (1998), etc ::: e gosto muito da maneira como ele as usa para questionar e atualizar o conceito de cânone, numa dialética de ruptura e continuidade.
Esta Revolution of the Word foi originalmente publicada em 1974 e reúne nomes (hoje) institucionais dos primeiros modernistas americanos, a outros poetas cultuados mas pouco conhecidos e poetas completamente esquecidos àquela época ou ainda hoje. Organizada em ordem alfabética por autor, é uma tentativa de esquecer ou contornar reputações e investigar o processo de sobrevivência dos textos, a partir do contexto em que surgiram.
O volume é dividido em duas partes: "Preliminaries" e "Continuities".

Entre os mais conhecidos e estabelecidos: Gertrude Stein, Ezra Pound, Marianne Moore, William Carlos Williams, Wallace Stevens, e.e. cummings, T.S. Eliot, Hart Crane;
Entre os cultuados, mas raros: Mina Loy, Laura Riding, H.D., Robert Duncan, Louis Zukofsky, Kenneth Rexroth, George Oppen, Charles Reznikoff, Kenneth Patchen, Jackson Mac Low, ainda muito mencionados e lidos, com antologias e obras completas ainda em catálogo, mesmo que não sejam exatamente "poetas de currículo"; poetas como Kenneth Patchen e Kenneth Rexroth têm um status estranho: ainda citados em historiografias, com volumes ainda em catálogo, suas obras parecem participar pouco do debate contemporâneo;

Entre os completamente esquecidos: Harry Crosby, Walter Conrad Arensberg, Bob Brown, Abraham Lincoln Gillespie, Else von Freytag-Loringhoven, Marsden Hartley, Charles Henri Ford, Kenneth Fearing, Eugene Jolas;
Entre todos eles, também o poeta... Marcel Duchamp.
Poetas como Ezra Pound, William Carlos Williams e Gertrude Stein nem sempre contaram com o reconhecimento que hoje os torna nomes incontornáveis para muitos poetas, até mesmo fora dos Estados Unidos. Contudo, Gertrude Stein ainda é excluída da maioria das antologias de poesia moderna em língua inglesa.
O que faz com que um poeta seja lembrado ou esquecido? Podemos realmente contar com o fator "qualidade literária" como principal? Quem estabelece esta qualidade? Os críticos? Quais? Para Hugh Kenner, a primeira metade do século XX foi The Pound Era. Para Harold Bloom, obviamente polemizando com Kenner, trata-se da "Stevens Era".
Deveríamos confiar nos poetas?

Se dependesse de Ezra Pound, alguém como Gertrude Stein provavelmente não teria muito espaço no "cânone". Stein pensava algo parecido sobre o próprio Pound.
Quando o século XX estava no fim, os jornais e críticos apressaram-se em preparar as listas dos melhores do século: nas listas de que me lembro, "The Waste Land", de Eliot, era quase que invariavelmente eleito "o poema mais importante do século". Pois bem, William Carlos Williams considerava "The Waste Land" o maior desastre das letras americanas, e Gertrude Stein nunca teve palavras muito gentis para Eliot. Briga de egos? Talvez. Se lemos com atenção o trabalho de Pound e Stein, por exemplo, percebemos que era coerente que eles não apreciassem o trabalho um do outro. Pode-se dizer o mesmo sobre Eliot e Williams.

Lendo a antologia organizada por Rothenberg, pergunto-me mais uma vez como é possível que a obra de poetas como Mina Loy e Laura Riding possam ser tão negligenciadas. De Loy, tenho o volume The Lost Lunar Baedeker: Poems of Mina Loy, uma seleção de seus poemas, incluindo a série esplêndida "Songs for Joannes", que cito em minha cadela sem Logos. Mina Loy é um dos poetas mais estranhos e interessantes dentre os primeiros modernistas anglófonos. De Riding, tenho a reunião de todos os seus poemas em The Poems of Laura Riding, outra esquisita dentro do que nos acostumamos a ver como Alto Modernismo.
Poetas como Kenneth Patchen e Kenneth Rexroth reabriram muito do caminho bárdico e politicamente radical para os Beats que estariam por vir, mas acabaram soterrados sob a empresa da imprensa dedicada aos mais jovens Allen Ginsberg, Gregory Corso e Jack Kerouac.
Entre os completamente esquecidos, pareceram-me especialmente interessantes os poetas Walter Conrad Arensberg, Harry Crosby e Kenneth Fearing.

E quanto ao Brasil? Como anda a saúde do nosso "cânone oficial"?
Pensar que poetas como Murilo Mendes e Jorge de Lima passaram tanto tempo soterrados ou submersos, assim como Hilda Hilst e Orides Fontela, chega a dar vertigem de tristeza. Mesmo assim, as obras deles são muitas vezes lidas sob parâmetros alheios. Basta pensar na mania de "eleger" o livro Tempo Espanhol (1959), de Murilo Mendes, como o seu "melhor trabalho", por permitir a leitura de Murilo Mendes sob os parâmetros estéticos de João Cabral de Melo Neto, parâmetros que condicionaram por certo tempo a apreciação crítica de tantos outros poetas.

Talvez Tempo Espanhol seja realmente um grande livro, mas não me parece realmente enriquecer o tal de cânone em um pluralismo de propostas, como os brilhantes e únicos As Metamorfoses, Mundo Enigma e Poesia Liberdade, que termina com o estupendo ::: SALVE SALVE ::: "Janela do caos", my own private most important Brazilian poem of the 20th century if you allow me the exaggeration.
O que pensar sobre os que ainda estão submersos?
É difícil investigar a "justiça" de seu esquecimento se este mesmo esquecimento impede que tenhamos acesso às obras dos poetas, impossibilitando a reavaliação. É por isso que se torna tão necessário que tenhamos sempre poetas curiosos que resolvem investigar, garimpar no olvido aqueles que possam apresentar obras interessantes para o seu (nosso) tempo. Penso imediatamente no trabalho de Haroldo de Campos e Augusto de Campos com poetas como Joaquim de Sousândrade e Pedro Kilkerry. Hoje em dia, penso em Dirceu Villa, chamando nossa atenção, com insistência, para o trabalho de poetas como Dom Tomás de Noronha ou Sapateiro Silva.
Lembro-me, porém, de alguns textos recentes de Antonio Cicero sobre a vanguarda e o cânone, tão bem-intencionados quanto equivocados, em minha opinião, com sua ilusão de um cânone incondicionado, formado por uma crítica "incessante e implacável" segundo ele, mas que eu chamaria de "condicionada por interesses extra-literários até a medula". Em artigos do ano passado, este poeta (por quem tenho respeito) entregou-se a uma reavaliação do papel das vanguardas, na qual estas transformam-se numa espécie de "afrodisíaco para a tradição". Em um artigo da semana passada, ele usa o trabalho do crítico inglês Terry Eagleton (que, com Fredric Jameson e outros, tenta salvaguardar a validade de uma abordagem política da literatura) para mais uma vez defender a crença de que alguns sofrem de cegueira ideológica, outros não; que uns têm liberdade crítico-estética (entre os quais ele se inclui, obviamente), enquanto outros estão condicionados por sua própria obsessão com o perigo de condicionamentos extra-literários na discussão da literatura. Se Eagleton "exagera" em seu zelo político, tal preocupação está longe de ser ingênua, como quer o poeta carioca, parecendo-me muito mais ingênua a sua tentativa de insinuar a possibilidade de uma crítica incondicionada, e sua argumentação de uma "falta de relação vital com a poesia" por parte de Eagleton e entre aqueles que possuem tal preocupação est-É-tica: a de analisar os condicionamentos históricos da avaliação artística. O exagero de Antonio Cicero é necessário para que siga em seu argumento. Cicero precisa para isso criar a oposição, como se faz com freqüência, entre o "condicionado" e o "incondicionado", evitando assim o trabalho realmente desafiador de buscar compreender como a poesia pode ser, ao mesmo tempo, documento histórico e estético. É mais fácil criar a oposição entre história e estética como inconciliáveis, como ele faz neste artigo e tantos outros poetas o fazem diariamente em outros textos. Quem conhece sua poesia, porém, percebe facilmente os condicionamentos individuais do trabalho poético e crítico de Antonio Cicero, dos quais nenhum poeta escapa, mesmo que ele se creia livre deles.

Terminaria com três poetas modernos submersos, esperando reabilitação ou atualização do esquecimento, segundo as necessidades de cada um: Henriqueta Lisboa (ainda à sombra de Cecília Meireles, em um cânone que reserva poucos lugares a mulheres, esta mineira tem alguns dos poemas mais cristalinos dentre os modernistas como "poetas puros". Nem tudo interessa, mas o que interessa poderia/deveria ser lido.); Joaquim Cardozo (Muito mencionado, pouco lido, creio que seus livros estão todos fora de catálogo); Dantas Motta (provavelmente considerado discursivo para um cânone embebido de parâmetros como "secura" e "economia de linguagem", este poeta escreveu algumas páginas que me parecem exuberantes e poderiam enriquecer um cânone mais plural.)
Entre os vivos, penso em um poeta como Max Martins, que talvez não tenha a sorte de receber, em vida, a atenção que outros poetas por muito tempo negligenciados têm recebido, como Roberto Piva.
Digo tudo isto, apesar de pensar que esta noção de cânone único e imutável é, de qualquer maneira, demasiado provinciana. Prefiro, hoje em dia, ver o cânone como simplesmente a reunião de textos que se reconfigura a cada geração, na qual nada pode engessar-se ou instituir-se como certeza e lei. Cânone deveria ser a reunião de textos sendo realmente LIDOS por poetas e por aqueles que vão à poesia pelas mais diferentes causas e em busca dos mais diversos efeitos. Não uma lista de reputação de poetas para universidades, universitários e seus professores. Esta noção de cânone, como a que me parece ser defendida por Antonio Cicero, por exemplo, é que transforma a poesia em mero documento histórico.
Deveria ser uma aventura, e é, caminhar por entre estes poetas famosos e esquecidos, mas :
CUIDADO
com os canhões
do cânone.
.
.
.